<REVISTA TEXTO
DIGITAL>
ISSN 1807-9288
- ano 5 n.2 2009 –
http://www.textodigital.ufsc.br/
ASPECTOS QUÂNTICOS DO CIBERTEXTO
Pedro Barbosa
CETIC (Centro de Estudos em Texto Informático e
Ciberliteratura)
Universidade Fernando Pessoa, Porto/Portugal
http://www.pedrobarbosa.net/
pedro_seriot_barbosa@hotmail.com
Resumo: Alguns pressupostos
epistemológicos da teoria quântica na sua abordagem do mundo natural
(virtualidade/actualidade, interacção observador/observado, imprevisibilidade e
causalidade estatística, dualidade unitária das partículas, noção de
informação, etc.) aproximam-se surpreendentemente das propriedades manifestas
pelas novas textualidades digitais, nascidas com a era do computador, e aqui
designadas genericamente como “cibertexto”. É propósito deste artigo ensaiar
uma aproximação entre o modelo quântico e o modelo semiótico, não tanto para
revelar uma simples homologia, mas antes para sugerir uma visão unitária
subjacente à abordagem dos vários níveis de realidade (matérica, biológica,
mental, cultural e espiritual). Essa aproximação entre a visão quântica da matéria
e o cibertexto centraliza-se terminalmente na unificação triádica dos conceitos
matéria/energia/informação com os conceitos fulcrais do triângulo semiótico:
significante/significado/sentido.
«Todo
o universo deve ser considerado como um sistema quântico
com
estados visíveis-reais e invisíveis-virtuais.»
Lothar
Schäfer
A teoria quântica, originariamente concebida como teoria
física para ser aplicada à estrutura íntima da matéria e às propriedades
paradoxais das micropartículas (electrões, protões, átomos, moléculas), encerra
pressupostos filosóficos que abrem uma nova maneira de pensar a realidade.
Sabemos o risco que comportam as extrapolações, tantas vezes fantasiosas, desta
teoria para outros níveis de organização do real. No entanto, Lothar Schäfer
(químico quântico) é peremptório em afirmar que não é só no campo da
microfísica que tais propriedades se manifestam: «As moléculas são a base da
vida e as moléculas são sistemas quânticos. Todas as coisas, pequenas ou
grandes, existem em estados quânticos.» [1]
E o matemático Roger Penrose corrobora: «A mecânica quântica está omnipresente
mesmo na vida quotidiana, e encontra-se no cerne de muitas áreas de alta
tecnologia, incluindo os computadores electrónicos.» [2]
Porquê então o termo "quântico" aplicado ao
domínio do texto? Em nome de uma moda passageira? Não, não se trata só de uma
metáfora.
Tentamos encarar aqui o texto, e a produção de sentido, já não
propriamente dentro de uma perspectiva atomístico-estruturalista, e sim num
outro paradigma, próximo do pensamento quântico. Isto porque se podemos, por um
lado, considerar cada palavra como um “átomo de sentido”, por outro lado a
produção de sentido no discurso vai-se fazendo dinamicamente de palavra em
palavra, num jogo onde todas as palavras interagem umas sobre as outras,
havendo de uma palavra para outra uma espécie de salto qualitativo de
informação, um "salto de sentido" equivalente a um "salto quântico"
de energia informacional. De palavra em palavra opera-se então no discurso uma
sucessão de saltos de sentido, de tal modo que o sentido final do discurso
decorra da inter-relação e do entrelaçamento em rede de todas as palavras
contidas no texto. Um simples “não”, introduzido no início de um discurso,
transmuda-o logo de um registo positivo para um registo negativo. É esse o
truque em que assenta o romance de Saramago, a História do Cerco de Lisboa: uma simples gralha, um “não”
introduzido por um revisor de provas, vai alterar irremediavelmente o discurso
do historiador – como se fosse uma onda espraiando-se por sobre toda a
superfície do texto. Realçamos: uma “onda” e não uma “partícula” pontual. Há
aqui uma espécie de "não-localidade" (como diria um físico quântico[3]),
e até à última palavra qualquer texto está sempre sujeito a mutações de
sentido. Qualquer palavra interage com todas, tal como uma única pedra lançada
a um lago vai interferir sobre todo o padrão de ondulação existente na
superfície das águas. As palavras, assim encaradas no interior do discurso,
poderiam então ser descritas como fenómenos ondulatórios – mais do que como
partículas bem localizáveis na rede textual, base da perspectiva estruturalista
que, no século XX, mais não foi do que a emergência do pensamento atomístico
nas ciências da linguagem. Transitamos assim de um pensamento estrutural para
um pensamento quântico: tal qual um electrão ou um átomo, uma palavra também
pode ser vista como partícula (no plano matérico do significante) ou como onda
(no plano flutuante do sentido). A última palavra de um texto interage a
distância com a primeira, podendo operar no todo uma alteração final de
sentido. Enfim, todas as palavras de um texto ligam-se entre si gerando um
complexo padrão de interferências ondulatórias cujo resultado final é o que
chamamos de “sentido”. Algo idêntico ao modo como a física quântica descreveria
um “objecto”, ou seja, um padrão resultante de interferências ondulatórias
entre as múltiplas partículas de matéria que o constituem, parecendo estas
relacionar-se entre si independentemente da distância a que se encontrem no
universo...
É esta propriedade da “extensão” das palavras, algo
“não-localizável” inerente ao plano da construção do sentido, aquilo que nos
parece comum e partilhável entre a teoria do texto e a teoria quântica da
matéria.
Por “não-localidade”, na física quântica, entende-se a
propriedade derivada da natureza não-corpuscular das partículas subatómicas,
encaradas estas na dualidade onda-corpúsculo. O carácter local ou corpuscular
de uma partícula opõe-se assim ao carácter extenso e não localizável de uma
onda. Se uma palavra (considerada esta no seu aspecto matérico de
“significante”, sonoro ou gráfico) nos aparece como uma partícula localizável e
tem uma posição definida no texto, como determinar, por outro lado, no plano
imaterial do “significado” (ou melhor, no plano semântico), o sentido que lhe
corresponde e que parece planar inespacialmente por todo o texto como uma onda
vibratória? As ondas não têm atributos pontuais, a sua natureza caracteriza-se
antes pela sua extensão. Tal como os sistemas quânticos, que possuem ao mesmo
tempo propriedades locais, características dos corpúsculos, e propriedades de
extensão, atributo das ondas, também as palavras (na sua dupla dimensão de
significante e de significado, material e mental) podem, a nosso ver, ser
descritas complementarmente na sua intrínseca dualidade: como sistemas
quânticos ambivalentes, simultaneamente ondas e partículas. Isto implica que as
palavras apresentem propriedades quer de corpúsculo, com localização precisa
(lexicologia, sintaxe), quer de extensão, de onda vibratória de sentido (ao
nível semântico). Consoante a perspectiva em que sejam analisadas, as palavras
(tal como as partículas atómicas) também se manifestam ao observador quer sob
um aspecto quer sob o outro.
São pois os pressupostos epistemológicos do mundo quântico
aquilo que aqui nos importa, não a sua operacionalidade física ou matemática.
Por isso, nesta aproximação, não levaremos a nossa ousadia muito além do
direito de citar, sugerindo apenas uma homologia entre o modelo quântico e a
teoria do texto, homologia cuja aplicabilidade ao texto gerado por computador
se nos afigura particularmente rica de potencialidades.
As textualidades inauguradas com o advento da
informática, caso do texto virtual, do texto automático, do texto generativo ou
do hipertexto, requerem uma correspondente forma outra de encarar a construção
do sentido.[4]
Ora os pressupostos basilares do pensamento
quântico revelam-se expressivamente operatórios para esta nova teorização
do texto. De entre eles, realcemos os seguintes:
1) A introdução da noção de informação na própria estrutura da matéria e na dinâmica da natureza (para além das duas noções clássicas de matéria e energia);
2) A valorização da aleatoriedade na interacção das partículas elementares, encarada também esta como uma propriedade íntima do mundo natural – daí que a imprevisibilidade dos seus efeitos leve à noção de conhecimento como ordem probabilística;
3) A superação do princípio lógico da identidade ou da não-contradição, o qual parece abrir-se a uma nova convergência da coincidência dos opostos (caso da dualidade unitária das partículas quânticas, metaforizada no famoso exemplo do gato de Schrödinger[5]);
4) A reanimação dos velhos conceitos de virtualidade e de actualidade;
5) A importância atribuída ao observador na manifestação das propriedades físicas da matéria - entenda-se, da realidade.
Estes pressupostos são já suficientes para abrirem cortinas
na abordagem do real, tanto quanto na conceituação do “texto”: matéria
organizada de sinais que armazenam, transportam e trocam informação.
1
- Teoria quântica e literatura quântica: pontos de partida
«A ordem
visível do universo é a expressão fenotípica de uma ordem mais profunda: a da
realidade quântica.»
Lothar
Schäfer
Do ponto de vista
da leitura, poder-se-ia designar aqui por “texto quântico” aquele texto
múltiplo que, quando encarado do ponto de vista do autor (ou seja, do ponto de
vista da sua construção), nos surge como “texto generativo” ou “texto virtual”[6].
Com efeito, as propriedades de sentido resultantes do texto automático
aleatório, até pelo seu carácter potencial, aproximam-se muito das propriedades
que os físicos atribuem aos objectos quânticos. Por exemplo: um texto múltiplo,
na sua manifestação concreta, pode ser de certo modo uma coisa e várias outras
ao mesmo tempo, assim desafiando a paz do princípio da identidade; ele é regido
pela indeterminação na multiplicidade do seu ser; e opera uma dialéctica
permanente entre a ordem e o acaso, existindo primeiramente enquanto estrutura
num estado de permanente disponibilidade virtual antes de se manifestar, de
modo vário, no plano actual ...
Escreveu
Heisenberg, em Physics and Philosophy
(1962): «As entidades quânticas (partículas atómicas) podem existir numa
espécie de realidade não conhecida das coisas vulgares, num limbo entre a ideia
de coisa e a coisa real» (LS, p.115)[7].
Descobrimos aqui, na estrutura íntima da matéria, algo que serve também à
descrição das propriedades intrínsecas do “cibertexto”[8]:
ou seja, a noção de probabilidade, de campo de possíveis textuais, o estado de
virtualidade entre o ser e o não-ser, a relação entre a ordem e o caos.
Afirma Lothar
Schäfer, em In search of Divine Reality
(1997): «Existe uma noção geral de que, uma vez que as transições para novos
estados (mutações) são aleatórias, a ordem e a complexidade que evoluem no
processo devem ser as criações do acaso. Mas uma não decorre da outra. Enquanto
os saltos de um estado quântico para outro são regulados pelo acaso, a ordem
dos estados sobre os quais o salto recai não é.» (LS, p.116).
Não realçamos aqui
esta aproximação de um modo fortuito. Na verdade, só pretendemos chamar a
atenção para esta similaridade no intuito de dar uma consistência metafísica à
produção textual aleatória e maquínica (a exemplo da gerada pela maioria dos
geradores automáticos, como é o caso do «Sintext»[9]),
e assim afastar as acusações levianas de que costuma ser alvo ao apelidarem-na
de mero formalismo literário ou simples jogo de palavras sorteadas, num
contexto estritamente positivista. Se uma lotaria intervém dentro de um texto
potencial, isso despoja-o a priori de
sentido? O mesmo jogo do acaso não intervém na ordem mais íntima da natureza?
Ao nível atómico, ao nível biológico, ao nível histórico, ao nível social? Será
preciso lembrar aqui a ideia dos “jogos de linguagem” subjacente à filosofia de
Wittgenstein?
O que visamos com
esta designação metafórica (sublinhe-se metafórica) aplicada à tipologia do
texto, é realçar a transposição que se faz desde a ordem mais profunda da
organização do real para a ordem textual. Pensamos assim atribuir uma
consistência ontológica à tipologia do texto generativo e ao acaso na arte em
geral, sendo isso mesmo o que na noção de “texto cibernético” subliminarmente
já propúnhamos desde 1977.[10]
Com efeito, o que
é que o texto cibernético propunha? Basicamente, uma estrutura (a “ordem” introduzida
no programa) e uma base lexical ou reportório de palavras seleccionadas
aleatoriamente. Nesta tensão variável entre a ordem e o acaso poderiam ser
transpostas, para o plano literário, as palavras do químico Schäfer a respeito
dos nucleótidos na célula vital: «Neste modelo considera-se que os
[nucleótidos] formam uma hipersuperfície de energia potencial multidimensional
com muitos estados estáveis – um real e outros virtuais – e uma mutação que é a
transição, envolvendo séries complicadas de saltos quânticos, de um estado real
do ADN para um estado virtual com uma diferente distribuição nuclear.» «Em
princípio – conclui ele – todo o universo deve ser considerado um sistema
quântico com estados visíveis reais e estados invisíveis virtuais» (LS, p.117).
Assim poderíamos nós também descrever os processos textuais, usando as mesmas
palavras que são por ele aplicadas à explicação quântica das mutações
biológicas: «Seguindo a perspectiva darwinista ortodoxa, as mutações não são
desprovidas de causa (são causadas por agentes mutagénicos) mas são aleatórias,
na medida em que não são dirigidas em nenhum sentido, como por exemplo, visando
melhoramentos» (LS, p.117). Em suma: «A ordem visível do universo é a expressão
fenotípica de uma ordem mais profunda: a da realidade quântica» (LS, p.118). E
acrescenta: «Na perspectiva quântica, os genes [leia-se aqui: as estruturas textuais] são veículos ou
estações de retransmissão por meio das quais as mensagens de uma ordem
subjacente são reveladas» (LS, p. 119). E uma extrapolação idêntica poderia
então fazer-se, por analogia, do plano biológico para o plano textual.
«A complexidade
que evolui não deriva do caos nem do nada, mas da efectivação da ordem virtual
que existia muito tempo antes de ser efectivada» – são palavras de Schäfer (LS,
p.119). Aqui se encaixaria uma resposta que, tantas vezes, nos ficou por dar
quando interpelados sobre o constructo textual dos geradores automáticos: jogo
verbal? formalismo literário? neo-barroco? neo-surrealismo maquínico? neo-dadaísmo?
montagem neo-modernista? experimentalismo oco?
Nada disso. A
nosso ver á neste jogo verbal uma consistência ontológica de natureza mais
profunda.
Diz Lothar
Schäfer: «Nos fenómenos quânticos, descobrimos que a realidade é diferente do
que pensávamos que era.» Na verdade, existe algum motivo para acreditarmos que
os objectos sejam de alguma forma semelhantes aos fotões que ressaltam deles?
«A ordem visível e a permanência são baseadas no caos e em entidades
transitórias. Os princípios mentais – relações numéricas, formas matemáticas,
princípios de simetria – são os fundamentos da ordem do universo, cujas
propriedades de aparência mental são também estabelecidas pelo facto de que
alterações na informação podem agir, sem qualquer intervenção física directa,
como agentes causais em alterações observáveis nos estados quânticos.» A
substância do mundo – escreveu Eddington – é substância mental. E em cada
molécula do nosso corpo estamos sintonizados com a substância do universo! (cf.
LS, p.152)
Este espanto do físico
quântico face ao comportamento íntimo da matéria, onde o princípio da
indeterminação impera, é exactamente o mesmo que experimentamos face ao texto
cibernético aleatório quando, na sua indeterminação, o vemos misteriosamente
produzir sentidos literariamente inesperados – e quantas vezes superando a
própria capacidade imaginante do seu autor-programador. É esta a razão pela
qual propomos designar este tipo de produção textual, no seu conjunto e
diversidade, como “texto quântico”.
Exemplo de
poema quântico
(fragmento 1)
~ sobre léxico herbertiano ~
Ofereço-te um soneto.
Ah, um rosto
é o que eu procuro
nas esquinas tenebrosas.
Olha: eu queria saber em que corpo se morre, para ter uma infância
e com ela
atravessar linhas leves e ardentes e crimes
sem a
poeira a tremer, e o teu Rosto
se voltar lentamente cheio
de febre para
uma Lua
despida
à janela.
Não faças com que esse silêncio te procure.
Leva braços
como se fossem harpas no teu nome:
os quadris
arqueados ao poder de vírgulas
selvagens.
Porque há maneiras outras de os amantes
viajarem:
Respira sobre folhas
largadas no ar
pelos teus dedos...
Oh,
Quem se alimenta de voz, quem
Se despe entre mãos desencostadas, pergunto,
Quem ama até perder o coração?
Por analogia com a Teoria Quântica,
também textos como este gerados no Sintext podem, no plano do sentido, ser e
não ser simultaneamente, isto é, assumir sentidos opostos e contraditórios,
dependendo isso da atitude interpretativa do leitor/observador. É o que veremos
de seguida.
2
– Definição e pressupostos
«Agir em resposta a alterações de informação é
prerrogativa de uma mente.
Desta forma, nos fundamentos da realidade,
descobrimos
entidades com propriedades de aparência mental
e um princípio
não-material e não-energético – a informação –
como agente eficaz.
As ondas quânticas manifestam um comportamento
de aparência mental.»
Lothar
Schäfer
Designaríamos
então por “literatura quântica” (numa acepção extensa) todo o tipo de textos programados
em computador segundo estruturas generativas dinâmicas, automáticas,
variacionais, reticulares ou interactivas, onde a multiplicidade dos sentidos e
a indeterminação das formas os aproxima das propriedades dos objectos
quânticos. Em sentido mais restrito, contudo, faremos incidir o termo no texto
generativo automático, por ser aquele em que a virtualidade e a indeterminação
aleatória leva mais longe a dissolução do conceito linear e estático do texto
tradicional.
A física quântica
fala de um sistema suspenso numa sobreposição de estados contraditórios e o
mesmo se pode dizer da sobreposição de sentidos (ou estados de leitura) de um
texto automático variacional. Mais: quando (no plano da natureza) o estado
material de uma partícula é originado pelo acto de observação que a faz emergir
de um estado ondulatório virtual, o mesmo se poderá dizer de um “texto
cibernético” que, no seu estado de disponibilidade estrutural, só é actualizado
pela geração computacional e pela interpretação (observação) que se lhe segue,
aí assumindo um entre “n” estados reais possíveis tendencialmente infinitos.
A designação de
"literatura quântica" posiciona-se assim do lado da leitura, enquanto
as correspondentes designações de "literatura generativa",
"texto variacional", “literatura algorítmica”, "texto
automático" ou "texto virtual" se posicionam do lado da escrita
e têm como ponto de partida a sua génese ou a sua estrutura. No domínio das
“novas textualidades” parece-nos realmente ser o texto automático (aleatório ou
combinatório) aquele que mais problemas levanta na conceituação do constructo
literário e da sua recepção. Mas mesmo no caso do “hipertexto” (que pode nada
conter de randomizado nas suas ligações em rede) a indeterminação intrínseca do
acto de leitura (considerando aqui a leitura como equivalente ao acto de
“observação” da partícula física na esfera da natureza) legitima uma
aproximação, quanto mais não seja analógica, entre estas novas textualidades e
a teoria quântica.
A este propósito
lembra Vicente Gosciola em Roteiro para
as Novas Mídias [11]:
«O modelo proposto pela teoria quântica define o sistema atómico onde os
elétrons se compõem, decompõem e recompõem em ondas de probabilidade e se
comunicam instantaneamente, estejam distantes ou não. É um modelo muito
oportuno para fazer uma analogia com o modelo de uma estrutura hipermediática,
onde as ligações entre os conteúdos se fazem perceptíveis ou não para o
usuário, onde os links podem unir instantaneamente os conteúdos, distantes ou
não, como os elétrons.» (ob. cit., p.204) Com efeito, a ligação instantânea (ou
quase) entre os conteúdos de comunicação feita pela hiperligação faz evocar a
“comunicação” a distância experimentalmente verificada em laboratório entre as
partículas quânticas. É este salto de linguagem que leva a narratividade
digital para um ambiente interactivo não-linear e que, de certo modo, o faz
mergulhar num “caldo indeterminista” (o.c., p.204). Não é mais possível prever
as ocorrências de leitura entre o utilizador e a obra – tal como não é possível,
de acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, prever o comportamento
exacto de uma partícula atómica no acto de observação. O roteiro de um
hipertexto pode estimar que o leitor possa aperceber-se da presença de um link
por um momento e num outro momento não, assim como o electrão para o modelo
quântico. No modelo que trabalha com probabilidades da física quântica, o link
pode estar para o conteúdo – lembra Gosciola – assim como o electrão pode estar
para o núcleo do átomo. «É o elétron quem faz a ligação entre os átomos. A
teoria quântica pode calcular o comportamento dos elétrons, mas não pode
precisá-lo. Assim como o roteirista da hipermídia só pode estabelecer sem
precisão as trilhas definidas pelo uso da obra. O roteirista de hipermídia sabe
que a estrutura narrativa de sua obra necessita de um certo número de links
para oferecer tal interatividade ao usuário, mas não pode definir com precisão
as trilhas que o usuário irá tomar. Aliás, mesmo considerando os limites de
espaço físico para os dados em disco ou a propriedade de finitude da narrativa
tradicional, quanto mais diferentes possibilidades de links entre os conteúdos
forem oferecidos, maior será a eficiência comunicacional da hipermídia.» (ob.
cit., p. 205)
Tal como na teoria
quântica, há aqui uma clara transição entre o estado virtual múltiplo oferecido
pela estrutura do hipertexto e a sua passagem a um dado estado actual de
sentido mediante o acto de leitura (algo muito idêntico à passagem de uma
partícula quântica desde um estado ondulatório virtual até um estado
corpuscular actual operado pelo acto da sua observação). É nessa passagem de um
estado virtual ao estado actual que se insinua a incerteza e a indeterminação.
Em hipertexto –
lembra também George Landow em Hypertext
2.0: The convergence of contemporary critical – o autor deve operar com
probabilidades para saber qual a trajectória percorrida pelo usuário. E é essa
indeterminação, decidida durante os “saltos” da leitura de um hipertexto ou
durante as “escolhas” aleatórias de um gerador automático, que nos leva a
imaginar um modelo quântico para a comunicação literária em ambiente
hipermediático.
A não-localidade,
derivada da natureza não-corpuscular
dos fenómenos quânticos, define um ambiente físico também ele comparável à estrutura
reticular, descentrada e rizomática, do hipertexto e da hipermédia: aliás, esse
espaço textual, sem centro e sem periferia, é o universo próprio de qualquer
estrutura digital em rede.
Mais curiosa ainda
é a similaridade entre a não-localidade dos fenómenos quânticos – ou o
“emaranhamento quântico” de que fala Penrose a propósito das partículas
elementares – e as relações não-locais estabelecidas entre as palavras na
estrutura de um texto para produzirem sentido, mesmo quando se encontram a grande
distância nesse texto. Realmente, a conjunção das propriedades das palavras ao
nível do que designamos como significados, interagem entre si a distância, no
plano semântico, como verdadeiros fenómenos não-locais de efeito globalizante
nessa complexa rede ou urdidura que é o sentido global resultante de um texto.
Poderíamos então falar de um “emaranhamento
semântico” (fenómeno global e não-local) transitando agora para o plano
semiótico.
De facto, a
interferência dos sentidos entre as palavras num qualquer texto funciona de
modo tão análogo com o das partículas a distância, que o poderíamos descrever
como se se tratasse da mesma propriedade de não-localidade verificável agora
num sistema textual. Quando o texto nos propõe algo como “Quem se despe entre
mãos desencostadas, pergunto”, ou “Quem se despe entre linhas encostadas,
perguntamos”, ou “Quem se despe entre paisagens inclinadas...”, ou “Quem se
despe entre paredes apertadas...”, etc., é como se houvesse uma atracção
semântica entre essas palavras entre si, e com todo o texto, para se conjugarem
num sentido. É como se as palavras se pusessem em sintonia entre si – digamos,
com o mesmo spin – para produzirem
sentido independentemente da distância a que se encontrem no texto (desde que
essa distância seja memorizável pelo leitor, quer dizer, desde que seja
observável). As palavras, embora separadas na superfície material do texto,
entram em comunicação umas com as
outras no plano do sentido – tal como os objectos quânticos, que apesar de
separados, se mantêm estranhamente em
comunicação entre si, no tal “emaramanhamento quântico” de que fala Penrose.
Ora, no plano
semiótico, como é que um sentido se edifica na nossa consciência? O sentido é
uma resultante, na nossa mente, desse entrecuzamento global de significados na
tessitura de um texto constituído por sinais materiais... Parece, pois, que
estamos dentro de um mesmo paradigma de compreensão: o qual por isso mesmo (e
não só por analogia) dá conta de uma similaridade de fenómenos entre níveis tão
diferentes da realidade, seja ele o matérico, seja ele o cultural.
Daí que faça todo
o sentido, para nós, a afirmação de Lothar Schäfer quando fala, paradoxalmente,
em fenómenos de aparência mental no comportamento das ondas quânticas:
«Agir em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação – como agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência mental.» (LS, p. 75)
É pois o texto
aleatório gerado automaticamente por computador aquele que, a nosso ver,
maximiza esta aproximação com o universo quântico. Permitimo-nos fazer aqui
referências recorrentes ao sintetizador «Sintext» (© P. Barbosa & A.
Cavalheiro), não tanto por nele termos investido em termos de concepção e
autoria - e ainda menos porque o queiramos erigir em paradigma - mas por ser
nele que temos trabalhado criativamente daí decorrendo, com conhecimento de
causa, aquisições empíricas para os problemas em discussão... A literatura
“sintextizada” é sujeita a mutações aleatórias dentro de uma ordem estabelecida
no programa, assim obedecendo claramente à dialéctica: ordem vs caos. Relembre-se que é do mesmo modo
que Schäfer aborda as mutações genéticas na ordem biológica: as mutações não
são desprovidas de causa (são causadas por agentes mutagénicos) mas são
aleatórias, na medida em que não são dirigidas em nenhum sentido.
A noção de “texto
virtual” nascida com a utilização do Sintext assenta no seguinte: os textos são
concebidos primeiro em estado potencial (é o que chamámos de texto-matriz) e só depois são vertidos,
mediante um procedimento combinatório ou aleatório, num campo variacional
infinito – só nesse campo variacional os textos passam a existir realmente como
textos materiais em estado legível. O curioso é que esta ideia de texto muito
se aproxima da perspectiva que a teoria quântica tem sobre as coisas. Diz
Schäfer: «As entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não
conhecida das coisas vulgares, “entre a ideia de uma coisa e a coisa real”,
escreveu Heisenberg.» E a ideia de um “acaso ordenado”, ou seja, de uma
estrutura virtual que é inseminada por um léxico aleatório para produzir textos
concretos, mobiliza uma dialéctica entre ordem e desordem que muito se equivale
à que assim é descrita numa perspectiva quântica: «Existe uma noção geral de
que, uma vez que as transições para novos estados (mutações) são aleatórias, a
ordem e a complexidade que evoluem no processo devem ser as criações do acaso.
Mas uma não decorre da outra. Enquanto os saltos de um estado quântico para
outro são regulados por pelo acaso, a ordem dos estados sobre os quais o salto
recai não é. «O acaso cego pode dar origem a qualquer coisa – escreveu Monod em
Acaso e Necessidade – mesmo à visão».
Deve então o texto
cibernético ser considerado um puro jogo ou um formalismo literário, como
querem os seus detractores? Quanto a nós não, pois a utilização do acaso na
criação textual não é uma simples lotaria verbal e muito menos a simulação
anedótica do macaco dactilógrafo. Antes de mais nada porque se trata de um
acaso ordenado, hierarquizado segundo a própria estrutura da linguagem. Mas
sobretudo porque parece aqui respeitar-se um pacto com a ordem natural do mundo
– algo como uma densidade metafísica que só a prática continuada nos vai
revelando como uma evidência. Trata-se da transposição, para o plano da
linguagem, da relação dialéctica entre o CAOS e a ORDEM – génese hipotética da
criação natural espelhada na criação artística. A relação de equilíbrio entre a
ordem e o acaso no texto, entre a complexidade e caos, é a mesma ordem
dialéctica que funda a natureza e a vida. No fundo, a velha regra válida para
toda a inovação em arte: a tradição e a inovação, a regra e a mudança, a ordem
e a desordem.
3
- Texto intersubjectivo e texto cibernético
«Enquanto os saltos de um estado quântico para
outro são regulados pelo acaso,
a ordem dos estados sobre os quais o salto
recai não é.»
Lothar
Schäfer
Num contexto
cultural ainda fabuloso como é o da Amazónia, e neste aspecto diametralmente
oposto ao contexto científico da civilização tecnológica europeia, foi onde
melhor nos apercebemos da matriz universal do nonsense surrealizante que, longe de ser um movimento literário de
apenas duas décadas arregimentado em meados do século XX europeu, antes parece
ser uma pulsão criativa universal e transcultural existente em qualquer
latitude e emergente em todas as épocas – uma fonte criativa que privilegia as
forças inconscientes do irracional, inseminando com elas a aparente coerência
iluminista da tradição estabelecida.
Essa
revelação surgiu-os durante uma conferência sobre Ciberliteratura, muito participada
aliás, no Instituto de Artes do Pará, no Brasil, onde um professor alemão de
teoria literária nos interpelou deste modo: «Como fazer a crítica de um texto automático: com outros ou com os mesmos
conceitos que são aplicados a um texto puramente
humano?» Quando o nosso colega falava em texto “puramente humano” (porque o
texto maquínico também é humano, quanto mais não seja porque utiliza a
linguagem humana) essa questão alertou-nos para a necessidade de distinguir
entre texto cibernético e texto inter-subjectivo. Realmente os equívocos
gerados a este respeito pareciam assentar em grande parte nessa indistinção.
Como os distinguir?
À falta de melhor,
respondi então que se a crítica é desmontagem, “desconstrução” do objecto
artístico construído, (sendo a criação e a leitura duas actividades simétricas
e complementares), então há que conhecer as regras, os pressupostos e os
paradigmas criativos do constructo cibernético para o analisar criticamente...
Mas nesse constructo a relação autor-texto-leitor é alterada pela interposição
de um maquinismo semiótico (o computador): e há que dissociar dois tipos de
textualidade no mundo contemporâneo – o texto relacional e o texto generativo.
Texto
intersubjectivo e texto cibernético revelam-se assim dois modelos diferentes de
texto que cumprem funções semióticas distintas. Um tem por objectivo colocar em
contacto dois sujeitos humanos concretos:

O outro tem por
objectivo desenvolver através da máquina um algoritmo textual literário até ao
esgotamento das suas capacidades de sentido num campo de possíveis
tendencialmente infinito:

O primeiro tem por
função colocar em contacto dois sujeitos num contexto referencial concreto; o segundo
visa gerar sentidos novos a partir de uma estrutura dinâmica funcionando como
fonte de informação. Se analisarmos o “texto cibernético” à luz do modelo e
funções do “texto intersubjectivo” (que é o que utilizamos na vida empírica
corrente) a Ciberliteratura (que é criação semiótica) é rejeitada; caso
contrário ela será aceite pacificamente pelos paradigmas literários dominantes,
pois não existe qualquer incompatibilidade entre ela e a natureza do texto
social convencional. Cumprem funções distintas e até, de certo modo,
complementares.
Embora
desenvolvendo algoritmos verbais desde sempre existentes (com picos históricos
como o da época barroca ou o do experimentalismo novecentista), é evidente que
o texto cibernético só ganhou relevância quantitativa e qualitativa com o
surgimento do computador utilizado como máquina semiótica capaz de potenciar
algoritmos literários no domínio da complexidade.
Está claro que se
dois sujeitos quiserem marcar entre si um encontro para tomarem um café juntos
(mensagem tipicamente referencial, com tempo e lugar definidos) não faz sentido
que utilizem um “texto motorizado” para gerar multiplicidades de sentidos: o
desencontro seria inevitável. Porque no texto informativo a referência
pré-existe ao acto comunicacional.
O texto
cibernético opera na esfera do sentido literário e não na esfera da ordem
prática. Ele é um modelo de texto com uma dinâmica interna, auto-organizado, um
“texto algorítmico” que só cumpre a sua função no contexto da criatividade –
liberto de uma referencialidade concreta pré-existente, mas instaurador de
referencialidades imaginárias através dos sentidos latentes que faz germinar.
Outra não é a função estética da linguagem quando usada para criar universos
fictivos (seja na vertente lírica seja na vertente narrativa).
Se no texto
relacional ou informativo a referencialidade pré-existe ao texto criado, no
texto fictivo a referencialidade emerge a
posteriori ao texto gerado: e é nesta segunda acepção que o texto
cibernético terá de ser enquadrado.
É óbvio que entre
um e outro destes modelos textuais há toda uma paleta de nuances literárias,
paleta que vai do realismo ao fantástico, com especial relevo para a liberdade
associativa surrealizante (contudo, no cibertexto não se trata já de uma ordem
associativa radicada em nexos psíquicos e rotinas mentais, como no automatismo
surrealista, mas antes de uma ordem associativa de tipo lógico-matemática,
tendo como suporte uma concepção de linguagem como sendo a combinatória
infinita de um conjunto restrito de sinais segundo certas regras). E o que é a
linguagem senão esse imenso jogo combinatório borgeano de sinais, assente numa
vintena de letras, onde tanto já foi dito e outro tanto está ainda por dizer?

(esquema distintivo entre o texto
funcional e o texto generativo proposto por Philippe Bootz)
4
– A questão da informação e do sentido
«Os sistemas quânticos podem reagir ao fluxo de informação, como se aquilo que
o observador pensa acerca deles pudesse afectá-los.»
Lothar Schäfer
De acordo com
Lothar Schäfer as partículas elementares possuem propriedades de tipo mental,
ou seja, elas alteram o seu comportamento não apenas através do fornecimento de
energia física mas também, aparentemente, através da informação: «Os sistemas
quânticos podem reagir ao fluxo de informação, como se aquilo que o observador
pensa acerca deles pudesse afectá-los» (ob. cit., p.25). Nesta perspectiva,
natureza e cultura (matéria e texto) parecem aproximar-se de forma
surpreendente: pois ambos envolvem o conceito de “informação”.
Os objectos
vulgares não são afectados por aquilo que se conhece deles, mas por aquilo que
se faz a eles; é necessária uma intrusão física para alterar as suas
propriedades macroscópicas. Para os sistemas quânticos, todavia, a situação é
diferente. Segundo Schäfer, os sistemas quânticos podem reagir de uma forma
observável a alterações de informação, mesmo quando essa informação é obtida
sem intrusão física.[12]
Podemos admitir que esta afirmação seja polémica no domínio científico. Mas não
deparamos aqui, para todos os efeitos, com algo de similar ao que se passa no
domínio da cultura, onde os eventos se processam com base na troca de
informação? Este químico vai ainda mais longe e declara explicitamente: «Agir
em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta
forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de
aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação –
como agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência
mental.» (LS, p. 75)
Ou seja, como escreve Wheeler, a “informação reside no
âmago da física da mesma forma que reside no âmago do computador; a informação
pode não ser apenas o que aprendemos acerca do mundo – pode ser o que faz o
mundo” (apud LS, p.25).
Estranhamente, nas mãos de físicos quânticos como Eddington, Schäfer ou Dirac,
as suas experiências laboratoriais proporcionam-lhes a sensação de que “a
substância do mundo é substância mental”. Diríamos agora nós, inspirados mais
pela cibernética e pela inteligência artificial: não é apenas o universo
psíquico que lida com a informação; a
informação, tal como a energia e a matéria, é um dos constituintes básicos da
natureza.
Também já Henri Prat[13]
introduziu a “informação” no domínio da biologia. A sua fórmula para definir o
ser vivo incorpora a noção de informação encerrada na estrutura que dá forma ao
organismo e lhe é transmitida pelo código genético.
l3.tn.em.is
O ser biológico é definido nas quatro dimensões ou
parâmetros do "hiperespaço", como Prat lhe chamou: l3 representa o volume espacial, tn o tempo (evolutivo, cíclico, etc.)
da sua vida, em a energia definida
einsteineanamente em função da sua massa m,
e is a informação encerrada na
estrutura (“s”, de
"structure") do seu organismo. Ou seja, essa estrutura organizativa,
aquilo que é transmitido de geração em geração pelos genes contidos nos cromossomas,
é algo que está para além da massa e da energia do organismo biológico, é
“informação” que se perde com a desintegração da morte, mas é transmitida
geneticamente às gerações posteriores – tal como, no domínio da cultura, a
“informação” passa não só de indivíduo para indivíduo mas também para as
gerações vindouras através da herança cultural armazenada nos livros e no saber
codificado.
Temos assim a “informação” presente em todos os grandes
níveis de organização do mundo natural: o da matéria inorgânica, o biológico, o
mental e o cultural. Ou seja, a informação atravessa todos os estádios de
complexificação da Matéria (o inorgânico, a biosfera e a noosfera) – MATÉRIA,
VIDA, ESPÍRITO.
Ora isto adquire uma relevância fundamental para a teoria
do texto, onde matéria, energia e informação se podem fazer corresponder, com
grande aproximação, aos três vértices do triângulo semiótico: significante,
significado e sentido.[14]

Por esta via, a teoria quântica, ao penetrar no
funcionamento íntimo da matéria, desliza inevitavelmente para a metafísica.
Lothar Schäfer «In search of divine
reality»: «A mensagem da física contemporânea é que, nas suas fronteiras, a
realidade observável não se desvanece no nada, e sim na metafísica. […] No
fundamento da realidade física, a natureza das coisas materiais revela-se como
não-material. Os componentes elementares das coisas reais formam uma espécie de
realidade que é diferente das coisas que produzem. Descobrem-se entidades com
propriedades de aparência mental.» (LS, p.29)
Ora isto mesmo é, no nosso modo de ver, o mistério
primordial que impregna a semiose de um texto! As palavras de Schäfer serviriam
também para descrever o funcionamento do texto quando, ao penetrar na matéria
dos seus significantes, se descobre a substância não-material do sentido... E o
sentido resulta de uma operação mental cognitiva, em que a consciência do
significado está envolvida, mas sempre emergindo do estrato codificado dos
significantes.
Uma calculadora, por exemplo, trabalha com significantes aritméticos (meros bits -> 12 : 3 = 4); sobre eles gera significados através de um algoritmo
algébrico (algoritmo da divisão, por exemplo) o qual conduz a um resultado (o
número 4); mas o sentido desse valor
e da operação efectuada nasce no entendimento que a nossa consciência tem de
toda essa operação maquínica. É aqui que, quanto a nós, se tem equivocado o
falso debate em torno da chamada “Inteligência Artificial”. Pois é nisto que a
calculadora se distingue do utilizador humano. Dir-se-á que o aluno da
instrução primária, que memoriza a tabuada e aprende a fornecer de cor
determinados resultados sem os entender, procede exactamente como uma
calculadora de bolso: é exacto. Por isso mesmo dizemos que ele realiza essas
operações “mecanicamente”, sem lhes apreender o sentido – ele trabalha apenas
ao nível do significado. E quantas
vezes só muito mais tarde, na idade adulta, ele acaba por “entender”
verdadeiramente aquilo que dantes fazia de cor por medo das palmatoadas?
Dizemos então que, finalmente, ele compreendeu a matemática. Por outras
palavras: ele ascendeu do plano sígnico ao plano
semântico. Isso apenas sucede quando a nossa consciência interioriza aquilo que a nossa mente aprendeu a fazer
de um modo automático – ou seja, quando atingimos aquilo que os linguistas e os
semiólogos chamam de “sentido”, o qual transcende o conhecimento sócio-cultural
do significado (aquilo que os dicionários registam e explicitam).[15]
Não há dúvida de que a vulgar calculadora (que já ninguém
põe em causa), recebe à entrada uma determinada informação (input: 12 e 3) para fornecer à saída uma
informação nova (output: 4) – tudo aí
se passa, contudo, apenas ao nível do par indissociável
significante/significado. É essa a razão pela qual, a nosso ver, é destituído
de sentido dissertar sobre a “inteligência” das máquinas ou do alcance futuro
da “inteligência artificial” (essa perigosa metáfora). Não é por uma
calculadora de bolso não ser “inteligente” (no sentido psíquico da palavra) que
ela deixa de poder produzir informação nova à saída. Informação que se torna
ainda mais sensível se o utilizador não souber, por exemplo, calcular
percentagens e recorrer para isso ao algoritmo incorporado na máquina. O mesmo
faz o matemático ou o astrónomo quando lida com cálculos complexos que
ultrapassam a capacidade de realização da mente humana.
E é também aqui que se operacionaliza o texto automático,
tal como toda a Cibernética e a Inteligência Artificial: trabalhando com sinais
materiais (significantes) e manipulando significados segundo algoritmos
linguísticos ou literários, geram-se sentidos novos à custa precisamente desses
procedimentos algorítmicos, os quais são apreendidos pelo ser humano, enquanto
leitor, na sua fase terminal – e aí ascendem ao plano semântico na sua
consciência.
Se não nos repugna utilizarmos uma calculadora electrónica
no domínio da matemática, porque nos há-de repugnar o uso do computador para
manipular automaticamente algoritmos literários produtores de sentido? Apesar
de os seus constituintes básicos materiais (os significantes), não serem providos de sentido em si mesmos, nada
impede que o sentido surja nos textos
que eles compõem. Daí não ser estranho que uma máquina, manipulando um
algoritmo literário alimentado por significantes,
possa, a um nível de organização superior, construir um texto com sentido totalmente imprevisível. Aqui
radica a noção de computador como “máquina semiótica” e “amplificador de
complexidade”.[16]
Exemplo de poema quântico
(fragmento 2)
Oh, avança
sobre a chuva
negra - sem memória.
Cospe sílabas como se fossem um Rosto verde
chegado
de uma dança transparente.
As mãos,
se as abres,
fazem a janela
torta
encostar-se à morte
pelo espaço todo.
- Quem ouvirá
quando eu abrir
a vida ao interior do tempo?
Uma mulher desviada na sua camisa suspira
como um sono louco.
Não te chames mais, espelho comendo ilhas.
Evapora-se a morte, mas não sinto.
Às vezes, sobre um pénis voraz e abrupto, passa
uma canção
lenta que não sabe,
e cuja velocidade
se abaixa e movimenta na obscura
floresta de um vento, mortal.
Não admito palavras sobre
o teu rosto
violado - ele o
diz :
disse.
5 – A questão da aleatoriedade: acaso e necessidade
“O acaso
cego pode dar origem a qualquer coisa, escreveu Monod, mesmo à visão.»
Lothar
Schäfer
Paul Valéry já nos advertia: «Duas calamidades ameaçam o mundo:
a ordem e a desordem». Um universo governado pela lógica, como uma máquina, não
teria novidade; mas um universo regido pelo caos, incapaz de se organizar,
seria igualmente impróprio para a criação.
Ora o acaso, por definição, é a ausência de causalidade. E
Paul Dirac assinala a natureza aleatória dos saltos quânticos afirmando que, em
saltos quânticos nas partículas, “é feita uma escolha”, podendo-se definir uma
“escolha” como “qualquer fixação de algo que é deixado livre pelas leis da
natureza”.
Esta é a admirável abertura trazida à teoria do texto (e a
toda a semiose) pela concepção da realidade na perspectiva quântica. O
universo, ao deixar de ser concebido como um mecanismo de relojoaria (caso do
mecanicismo clássico), abre-se à aceitação do imprevisto – tal como o texto
cibernético se abre à renovação imprevisível do sentido, numa perspectiva
semiótica.
É em função desta analogia que aqui designamos como “texto
quântico” (agora em sentido restrito) o texto aleatório gerado por
sintetizadores computacionais automáticos (générateurs
ou generators).[17]
Mas há outros aspectos que reforçam a similaridade entre a teoria quântica e
esta prática textual onde a aleatoriedade labora dentro de um quadro
determinista definido pelo algoritmo, efectuando o cruzamento entre a ordem e a
desordem num “acaso ordenado”. Neste jogo dialéctico entre o acaso e a
necessidade, encaixa o conceito de “organização”, tal como foi proposto por
Edgar Morin. A organização no mundo
nasce de uma espécie de síntese dialéctica entre esses dois pares de opostos, a
ordem e o caos (a tese e a antítese). Recorde-se o que Edgar Morin afirma numa
entrevista concedida a Guitta Pessis-Pasternak («Do Caos à Inteligência Artificial»)[18]:
«Toda a teoria da organização já é
uma teoria da autonomia, pois a organização assegura ao sistema uma relativa
autonomia em relação aos factores deterministas e aleatórios do exterior.»
Transpondo então esta ideia para o plano textual, poderíamos conceber o “texto”
como uma estrutura organizada resultante de um equilíbrio entre esses dois
factores: a ordem e o acaso, a redundância e a inovação.
|
|
A laboração de um acaso organizador na ordem textual é por vezes
tão surpreendente que, na prática do texto automático, somos com frequência
atirados para direcções imprevistas do sentido como se uma ordem linguística
laborasse no interior do algoritmo independentemente de nós, seus autores. O
nosso espanto parece idêntico ao dos físicos quânticos diante do comportamento
da matéria. O que está em causa é o mesmo princípio ordenador do mundo – a
ordem e o caos, a tese e a antítese, o positivo e o negativo – de cuja
interacção resulta a organização e a dinâmica da natureza em todos os seus
níveis.
Esta abertura do mundo quântico serve-nos assim de
fundamento “ontológico” para o texto maquínico de produção aleatória – e ao
invés de vermos nele um formalismo
literário (como pretendem os seus detractores) antes o encaramos como um encontro, na estrutura íntima do texto,
com as propriedades intrínsecas da matéria. Ou seja, uma paradoxal sintonia com o funcionamento profundo do
mundo natural.
Isto faz desta designação “texto quântico” algo mais que
uma simples aproximação metafórica.
Leia-se mais este fragmento de um texto gerado no Sintext,
a partir do léxico de «Cinco canções lacunares», de Herberto Helder:
Exemplo de poema quântico
(Fragmento 3)
Ele viu
erguendo-se sobre o
labirinto da Cidade
ele viu o Rosto:
o nome a respirar dentro dele
em sua escala de notas
nocturnamente claras.
Não faças com que esse pénis te procure.
Respira sobre mãos
que escaldam:
se as abres
com teus dedos,
a tua primavera suspira
como um vício
louco.
Oh, não te sentes atrás
de um motor parado.
Pela mulher secreta dos caminhos iguais -
achada - a fantasia esquece.
Quando?
Entre as rimas e o Rosto.
Quando o poeta aperta o suor, e derrapa
na confusão do amor
ao encontro do seu nada, na única direcção da sua própria
chuva.
Merece atenção aqui a ideia de um “acaso organizador”,
proposta por Henri Atlan (biólogo) para dar conta de fenómenos ordenados a
partir de turbulências ou flutuações caóticas (biologia, meteorologia, economia,
etc.). Este princípio estabelece um diálogo entre ordem/desordem/organização, que é exactamente o que acontece na
elaboração computacional de um texto como o acima transcrito: digamos que
produzido a partir de turbulências e flutuações caóticas no plano semiótico.
Estamos perante a reabilitação do acaso no pensamento
científico e artístico contemporâneo? Sem dúvida: o que conduz à ideia de um
determinismo probabilístico. O “caso organizador” insere-se assim na zona de
intersecção entre um dogmatismo do acaso
e um dogmatismo do determinismo. Há
pois que conceber o universo através de uma relação complexa entre ordem,
desordem e organização.
«Com efeito – corrobora Edgar
Morin – a ordem e a desordem, isoladas, são duas calamidades. Um universo que fosse
apenas ordem seria um universo onde não haveria nada de novo, nem criação. Já
um universo que fosse apenas desordem não chegaria a constituir uma
organização, e seria inapto para o desenvolvimento e a inovação. É por isso que
precisamos de conceber o universo a partir daquilo que denominei o “tetragrama:
ordem/desordem/interacções/organização.
Este tetragrama não fornece a “chave” do Universo, mas permite compreender o
seu jogo. Ele revela a sua complexidade.
O objectivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo, mas dialogar
com o mistério do mundo.» (Apud
Guitta Pessis-Pasternak, o.c., p.87)
Falamos portanto aqui de um acaso essencial ou ontológico,
inerente à organização íntima da natureza, e não de um mero acaso epistemológico
emergente da nossa ignorância, da nossa insuficiência cognitiva, nem tampouco
de um acaso puramente formal, matemático ou lúdico.
Se a natureza se organiza sobre o acaso e a necessidade, a
causalidade e o livre-arbítrio, também a arte se dinamiza sobre tradição e
inovação, ordem e liberdade, regras e acaso. A legibilidade do cibertexto está
pois no delicado equilíbrio entre a ordem e a desordem, as regras e a
liberdade, a redundância e a inovação.
Excerto de poema quântico
(fragmento 4)
Ela viu
uma planura de mel
fervente, a rede dolorosa de um pénis
que se ilumina.
Uma ressaca incandescente na parte
mais forte da voz
aterradora da canção
suspirante
do teu desassossego alto.
- Não.
Oh, não leves os planos,
solta um cabelo docemente animal
entrega a
rapariga que és ao teu suor maternal.
Porque tem o sangue
tanta água oblíqua?
O nome:
Quando se toca,
ao fundo: esquece. Há quem fique num amor
para assistir ao ar.
O mais perturbante, quando se lida com o acaso na linguagem
segundo a lei dos grandes números, é observar como do caos dos significados
tratados pela máquina parece emergir uma ordem no plano do sentido. Algo de
semelhante ao caos organizador de Atlan e Prigogine? Provavelmente. É como se o
acaso na linguagem desse também sentido aos textos emergentes da desordem e
abrisse ao leitor portas inéditas de compreensão do real...
Do nosso ponto de vista, há uma tal homologia que liga esta
textualidade à ordem profunda do universo!
Usando o computador como um “telescópio de complexidade”, o
acaso não labora no interior da linguagem como um puro exercício formal, mas
antes parece ter (digamos assim) uma consistência metafísica, pois o cibertexto
transpõe para o plano da linguagem a mesma ordem de relações dialécticas que parecem
sustentar o mundo natural na sua dinâmica ontológica: o perpétuo equilíbrio
entre a ordem e o caos, a inovação e a redundância, o acaso e o
determinismo (e isso a todos os níveis: tanto a nível cosmogónico, como
atómico, biológico, biográfico, histórico ou cultural). No «Sintext», por
exemplo, o algoritmo que está na sua base parece ser homólogo dessa ordem
profunda do universo, a do acaso gerador de ordem. Aqui, porém, no plano do
sentido e mobilizando uma concepção de linguagem como combinatória infinita de
sinais: respeitando os dois eixos básicos em que se articula a linguagem (o
paradigmático e o sintagmático), fizemos o acaso laborar no eixo vertical do
paradigma e a ordem fixar-se no eixo horizontal do sintagma.
Evoque-se então esta breve série de aforismos, gerados
automaticamente, entre os milhares ou milhões de outros possíveis dentro do
mesmo campo textual:
Aforismos
automáticos
(selecção)
* O caminho que vai para o
universo passa pelo longe.
* Acaso Deus é noite em
presença do nada ?
* Cala , saberás viver .
* Quando a negação nos deixa
é porque a ciência não está longe.
* Acaso Deus é tudo em
presença do Homem?
* Aprende, saberás ensinar.
* A ignorância é a
continuação do silêncio por outros meios.
* Um tempo para a angústia,
um tempo para o prazer, um tempo para o exílio.
* Cala , saberás mandar.
* Acaso o universo é tudo na
ausência do infinito?
* Quando a luz nos abandona
é porque o infinito não está longe.
* A subtileza do perguntar
está na profundidade do saber.
* O caminho que nos leva ao
tudo passa pelo nada.
* Quem faz perguntas
cansadas, recebe respostas de joelhos.
* Aprende, saberás
perguntar.
* Morre, saberás responder.
* Grande é a sapiência do
mestre que ensina o que não se pode aprender.
* A profundidade do saber
está na profundidade do perguntar.
* Grande é o saber do mestre
que aprende o que não se pode aprender.
* Acaso o universo é luz em
presença da noite?
* Acaso o infinito é água na
ausência da voz?
* Acaso o homem é música na
ausência do ritmo?
* O prazer deve tornar-se
infinito tanto quanto a matéria se tornará odor.
* Quando a negação nos deixa
é porque a ciência não está longe.
* Mais vale o universo sem a
matéria do que a razão sem o esquecimento.
* Douto é o mestre que
ensina pelo prazer de interrogar.
* Passado sem ciência não é
senão esquecimento sem memória.
* Acaso o branco é noite na
ausência do dia?
* O caminho que nos leva ao
fim passa pelo poema
* Não há beleza no futuro
mas sim no esquecimento.
* Acaso o vento é música em
presença da voz?
* Grande é a sapiência do
mestre que aprende o que não se pode ensinar.
* Mais fácil é superar o
obstáculo do que a sua negação.
* Não há mistério fora do
tempo, onde o tempo não existe.
[P. B.: Máquinas
Pensantes: aforismos gerados por computador,
Porto, Árvore, 1988]
Diríamos portanto, e a concluir, que as palavras no plano
semiótico parecem manifestar propriedades idênticas às das partículas no universo
quântico. O que há de comum entre elas? Talvez o facto de ambas assentarem os
seus fundamentos no acaso ordenado e se organizarem em padrões ou flutuações
caóticas segundo um comportamento aleatório não completamente determinado…
6
– Transgressão do princípio da identidade?
«Podemos
apagar as luzes, pois está a ficar demasiado escuro!»
Lothar
Schäfer
A dualidade onda-partícula é uma característica das
entidades físicas elementares (fotões, electrões, protões, ou átomos e
moléculas): ora evoluem como ondas quando não observadas, ora como partículas
quando são observadas. Daí Lothar Schäfer afirmar que a realidade é criada pela
observação, que a base do mundo material é não-material e que os constituintes
das coisas reais não são reais da mesma forma que as coisas que constroem.
Mais: que a natureza da realidade é simultaneamente
material e de aparência mental. (LS., p.49).
Ora esta dualidade parece contraditar, de certo modo, o
princípio aristotélico da não-contradição: como se uma coisa pudesse ser, ao
mesmo tempo, duas coisas opostas – ser e não ser ao mesmo tempo! Ou seja, é
como se A pudesse ser A e B simultaneamente. Entre corpúsculo e onda, quando um
vem à tona tende a ensombrar o outro, exibindo uma complementaridade
intrínseca, pois há, entre eles, mais do que conflito e competição, uma
dialéctica de adjuntos.
O pensamento oriental convive melhor do que o Ocidente com esta dualidade antitética, em particular a tradição taoísta configurada no símbolo:
 |
Este símbolo do Tao reflecte
visualmente o estado de interdependência das duas polaridades universais do
real. Uma está contida na outra, interpenetram-se e integram-se numa síntese
transcendente da dualidade: a tese/antítese/síntese do pensamento dialéctico. Contrarii sunt complementa.
Considerem-se então estas duas
seguintes asserções:
A - «O segredo de viver está na capacidade de esquecer»
B - «O segredo de viver está na capacidade de lembrar»
Ambas fazem sentido, apesar de
semanticamente opostas. Não se trata mais de “ou isto ou aquilo”
(princípio do 3º excluído), mas sim de “e
isto e aquilo” (princípio do 3º
incluído). É algo como se A e -A convivessem simbioticamente, traduzindo dois
aspectos diametralmente diferentes da realidade: a faceta Yin e a faceta Yang.
A afirmação A é subtractiva e a asserção B é aditiva. E ambas são válidas
porque ambas traduzem as duas faces opostas da realidade, o positivo e o
negativo, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, de cuja oposição
energética parece nascer o movimento e a vida no universo. São as duas faces da
mesma folha, o verso e o reverso, sempre coexistentes e indissociáveis num
UNVERSO DUAL.
Contudo, no pensamento
científico contemporâneo, começa a emergir a noção de um MULTIVERSO, a “n”
dimensões, suportado por uma teoria de mundos paralelos. Como exprimir
linguisticamente uma tal visão multifacetada do Real? O cibertexto, na
sua multiplicidade variacional intrínseca, parece constituir de certo
modo uma estrutura textual homóloga do modelo de um multiverso. É o que
adiante veremos.
O aspecto contra-intuitivo do mundo quântico, nos seus
resultados experimentais, é aquilo que a torna fascinante como modo de pensar
(se assim se pode dizer), pois é também esse mesmo aspecto contra-intuitivo que
na ciberliteratura (em particular no texto aleatório automático) nos manifesta
resultados textuais contraditórios e tantas vezes perturbadores, mas nem por
isso não significativos...
O curioso é que esta lógica “não-aristotélica”, constatada
no comportamento da matéria, tem afinidades com o modo em que se articula o
texto poético, para não dizer todo o pensamento mítico-simbólico. No terreno
artístico, como em todo o pensamento metafórico, o princípio da identidade ou
do terceiro excluído cede lugar a uma espécie de princípio cumulativo chamado já
“princípio do terceiro incluído”.[19]
Ou seja: A é A, mas pode ser também B, ou C, ou D… Como sintetizou Jean
Chevalier, na sua introdução ao Dicionário
dos Símbolos, o pensamento simbólico, ao invés do pensamento lógico,
procede, “não pela redução do múltiplo ao uno, mas pela explosão do uno no
múltiplo”. No texto variacional esta propriedade manifesta-se de modo
particularmente evidente. Leia-se a seguinte série de aforismos gerados
automaticamente:
Série de 33 aforismos gerados
automaticamente
* Acaso a luz é luz na ausência da
luz?
* Acaso a noite é noite em presença
da noite?
* Porventura a luz será luz em
presença do fogo?
* Acaso o homem é Deus em presença
do fogo?
* Acaso Deus é tudo em presença do
nada?
* Porventura Deus será nada na
ausência de tudo?
* Acaso Deus é silêncio em presença
do mal?
* Acaso a noite é grande em
presença de ti?
* Porventura o mal será bem na
ausência do mal?
* Acaso o infinito é pequeno em
presença do infinito?
* Acaso o grande é grande em
presença do grande?
* Porventura Deus será grande em
presença do homem?
* Acaso nada é nada em presença do
nada?
* Acaso o feio é belo na ausência
do belo?
* Porventura a luz será luz na
ausência da noite?
* Acaso tudo é arma em presença da
arma?
* Acaso o bem é silêncio em
presença da arma?
* Porventura a arma será arma na
ausência da arma?
* Acaso o vento é grande em
presença da noite?
* Acaso tudo é noite na ausência de
ti?
* Porventura o silêncio é música em
presença do silêncio?
* Acaso nada é mal na ausência do
homem?
* Acaso o mal é tudo na ausência do
bem?
* Porventura o homem será homem na
ausência do homem?
* Acaso o vento é nada na ausência
do vento?
* Acaso a noite é silêncio na
ausência do fogo?
* Porventura o branco será negro em
presença de Deus?
* Acaso tudo é vento na ausência do
homem?
* Acaso a noite é silêncio na
ausência de ti?
* Porventura o fogo será fogo em
presença do vento?
* Acaso Deus é noite em presença do
nada?
* Acaso o nada é nada na ausência
de tudo?
* Porventura tudo será tudo em
presença de tudo?
O algoritmo gerador destes textos, concebido em linguagem
BASIC (1985), funcionava numa base aleatória: assim se instaurou uma dialéctica
entre programação e casualidade, a funcionar no interior de um modelo textual
decalcado sobre estruturas sintácticas de tipo aforístico. Programando
configurações textuais rígidas, nelas se reconhece ao mesmo tempo a fecundidade
do acaso e da desordem abrindo um campo de possíveis tendencialmente infinito.
O que aqui se torna surpreendente é a flexibilidade interpretativa dos nossos
procedimentos leiturais, que tanto validam A como não-A, ou B e anti-B.
Perguntar-se-á então: como justificar que um procedimento casual se insinue
assim na esfera do pensamento e do racional?
Como compreender, do ponto de vista lógico-semântico, que
todas estas realizações labirínticas se nos tornem igualmente aceitáveis já que
negando-se, opondo-se, contradizendo-se, todas encerram afinal uma “verdade” –
uma plausibilidade de sentido?
Comprovará isto o que há de jogo arbitrário no nosso
pensamento ou comprovará apenas a flexibilidade dos nossos procedimentos
interpretativos diante de um texto dado, forçando-nos a ajustar os mecanismos
semânticos diante de A como diante de anti-A, por forma a torná-los ambos
verosímeis? Tratar-se-á aqui de meros fenómenos de interpretação semântica?
Puro resultado de um ajustamento metafórico semelhante ao dos testes
projectivos? Mas se um tal esforço pode ser feito diante do enunciado A como
diante do enunciado não-A, para onde vai a segurança na lógica da linguagem,
bóia que nos salvava de um naufrágio epistemológico na nossa relação com o
mundo, com o real, com a verdade? A construção do sentido que se opera sobre um
texto maquínico torna-se uma aventura permanente e imprevisível, mas a
linguagem fragiliza-se na sua arbitrariedade intrínseca enquanto formadora do
real e da mediação que estabelece entre nós e o mundo inteligível...
Claro que, como ponto de partida, a multiplicidade de
sentidos é uma característica intrínseca do texto literário. Mas a verdade ou a
in-verdade de uma afirmação é o seu ponto de chegada. E o que se torna
perturbante num texto múltiplo variacional é a sensação de que tanto uma
afirmação como a sua contrária resultam simultaneamente válidas na operação
interpretativa. Que A e não-A possam de igual modo constituir portas de acesso
ao real? Se isto não viola o princípio da identidade e da não contradição,
parece questionar algo nas bases da racionalidade. Ora é neste ponto que, a
nosso ver, o texto cibernético se torna comparável (sublinhe-se “comparável”)
ao comportamento das entidades quânticas, as quais agem, ora como partículas
quando observadas, ora como ondas quando não observadas. Ou seja: de certo
modo, elas podem ser e não ser, manifestando-se a nós de dois modos distintos e
exclusivos.
Com efeito, poderíamos afirmar (com os físicos quânticos)
que as palavras, quando não observadas, se manifestam apenas como signos (como entidades matéricas), e quando
observadas se manifestam como ondas de sentido
(conteúdo mental). Ou seja, tanto as palavras quanto as partículas quânticas
mudam de estatuto pelo acto da observação.
A interpretação
(ou “observação”, se se quiser, no plano textual) é essa enigmática operação
que anima um texto, materialmente
inerte, num texto mentalmente
significante. Algo muito semelhante à estranha afirmação dos físicos quânticos
quando dizem que a natureza da realidade é simultaneamente
material e de aparência mental (partícula e onda).
Detenhamo-nos em mais este fragmento de um cibertexto, onde
o jogo das metáforas parece situar-nos entre o ser e o não-ser, construindo
alternativas de sentidos opostos, contraditórios e infinitamente renováveis:
Exemplo de poema quântico
(fragmento 5)
Ele viu
a fria imagem erguer-se sobre o movimento nocturno
das massas e o remoinho cru do
soneto
desordenado
nos meandros do silêncio -
enquanto a água iluminava toda a frente
e os incêndios vaginais
da substância ardendo
acima das formas:
o sopro a respirar dentro dele
- o adolescente
e a mulher desviada presa dentro do amor.
- Quem ouvirá em que sinais, esta leveza de outra
música, quando eu abrir o sono
sobre um nome:
e uma mulher de paraíso cru
vivendo na esquina da sombra sem dar um passo, amando
com seus dedos presos
de loucura
e de segredos.
Não te chames assim.
E ela curva o Rosto
teatral -
: o vestido de ar ardendo, os pés em movimento no meio
do espaço
e o palco a que se
abraça ao paraíso cru, indecifrável, mudo.
No mundo quântico faz sentido afirmar: «Podemos apagar
algumas luzes, pois está a ficar demasiado escuro!» Quem isto afirma é o
químico Lothar Schäfer (ob. cit, p.56). E aquilo que denominamos de texto quântico funciona exactamente
assim...
Digamos que a física quântica tem da matéria,
paradoxalmente, uma concepção idealista e não uma concepção materialista. Como
defendia Berkeley (1685-1763) : «Esse est percipi», existir é ser
percepcionado. Com o texto cibernético ocorre o mesmo: ele emerge como texto na
medida em que é interpretado (percepcionado). Que interessa, pois, que ele seja
produzido por uma máquina, por um algoritmo aleatório, ou por um programa
informático, desde que produza sentido? E quantas vezes, esse sentido,
surpreendentemente inovador, não supera as expectativas do próprio autor? [20]
Não se trata aqui apenas da indeterminação semântica do
texto literário, da sua abertura intrínseca a uma pluralidade de sentidos (a
discutidíssima plurissignificação).
Na medida em que um «cibertexto» representa apenas uma ocorrência entre uma infinidade
de outras ocorrências possíveis no interior de uma mesma estrutura potencial
(daí chamarmos-lhe “texto virtual” ou “variacional”), estamos face a uma plena
“abertura estrutural”: uma abertura dinâmica que se situa muito para além da
comum abertura interpretativa.[21]
7
– A questão da virtualidade
«As
entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não conhecida
das coisas
vulgares, num limbo entre a ideia de coisa e a coisa real»
Heisenberg
Para a teoria quântica o universo passa a estar controlado,
em parte, por leis matemáticas estritamente deterministas e, em parte também,
pelo puro acaso matematicamente definido. (cf. LS, p.68) Ora o cibertexto
computorizado funciona assim também: uma liberdade (um “acaso”) operando no
interior de um sistema de regras (algoritmo).
Mas não será que toda a criatividade artística obedece a
este mesmo princípio? O que é um soneto? Não é uma “liberdade” exercida no
interior de um sistema rígido de regras estróficas?
Isto leva-nos a uma outra propriedade fundamental do “texto
quântico”: a virtualidade. E esta propriedade tem múltiplas facetas.
Ouçamos primeiro o que afirmou Heisenberg em
Que há de mais próximo ao conceito de “texto virtual”, tal
com o descrevíamos em «Teoria do Homem
Sentado» na sua versão de 1996? Com efeito, o que propúnhamos aí era uma
disquete contendo uma infinidade de textos em estado potencial, mas, a rigor,
nenhum texto concreto em estado actual. A disquete que acompanhava esse livro electrónico (assim lhe chamámos
então à falta de melhor termo) disponibilizava um programa: um sintetizador de
textos[22]
e um reportório vocabular. Mas esse sintetizador só produzia textos em estado
sígnico se o leitor executasse o algoritmo num computador. Digamos então que
não era fornecido aí nenhum sentido em estado organizado de palavras, mas um
vastíssimo campo de possíveis onde uma infinidade de textos imprevisíveis
apenas seria concretizada no ecrã ou na impressora do utilizador. Em suma, os
textos e os sentidos que esse “livro infinito” iria engendrar apenas existiam
em estado virtual, em estado de
“potentia”; e só quando o algoritmo fosse dinamizado pela máquina começariam a
surgir textos legíveis em estado actual.
Por isso falávamos ironicamente em “texto
ovo” ou “texto semente” – o ovo é
o pintainho em estado de potência tanto quanto a semente é a árvore em estado virtual.
As estruturas textuais introduzidas no algoritmo do
programa tornavam-se uma espécie de “código genético” dos textos a produzir –
daí que nos sentíssemos mais a efectuar uma espécie de “manipulação genética”
do texto do que a produzir textos acabados na sua forma sígnica legível. Por
isso mesmo o sentido resultante dos textos produzidos no concreto apenas tinha
uma ordem probabilística: eles escapavam de certo modo ao autor, encerravam em
si mesmos uma larga margem de imprevisibilidade, apenas se revelando no momento
em que a máquina semiótica (o computador) os produzisse, e o seu sentido
tornava-se sempre diferente e sempre renovável em cada execução do programa.
Tendencialmente até ao infinito...
Esta noção de textualidade
equivale-se à noção de natureza para o físico quântico. «As partículas
elementares não são verdadeiramente reais quando não são observadas, e portanto
a realidade é criada pela observação»[23]
- afirma Lothar Schäfer. Também o texto
cibernético não é verdadeiramente real enquanto não é gerado pela máquina
para depois poder ser interpretado: ele apenas existe no programa em estado de
latência. Daí o seu carácter virtual
ou potencial.
“Potentia” é um conceito da metafísica de Aristóteles que
descreve um estado de ser intermediário entre o “não-ser” e o “ser realmente”.
Na perspectiva de Heisenberg, os electrões e os átomos partilham este aspecto
de potentia: quando não são
observados, não existem no sentido
vulgar, mas estão suspensos num mundo
de possibilidades. «Para que as formas se tornem realidade – sintetiza Lothar Schäfer – a matéria tem o significado
de possibilidade» (LS, p.70). O mesmo
se dirá do texto cibernético virtual
que só se torna real quando a máquina materializa o seu campo de possibilidades.
Por isso mesmo, em Teoria do Homem
Sentado sentimos necessidade de propor a noção de campo textual (campo de probabilidades) para traduzir os
inumeráveis múltiplos da produção
variacional assim infinitizada:
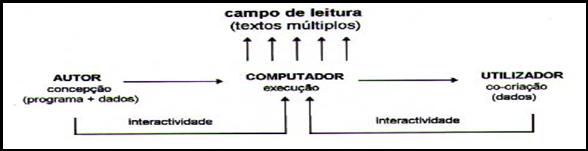
O CAMPO DE LEITURA substitui aqui a noção de “texto único”: uma estrutura textual dá lugar a uma infinidade de "múltiplos", todos diferentes entre si, em lugar das habituais "cópias" sempre idênticas ao modelo e a elas mesmas. Fica deste modo aberta a via para uma "arte variacional" tendencialmente infinita. No caso de a interactividade ser forte, a leitura passiva transforma-se numa actividade participativa de "escrita-leitura" e o leitor assume então o estatuto de "escrileitor" (wreader, laucteur).
Os padrões que no
texto quântico definem as estruturas textuais encontram-se no algoritmo
informático. E algo de muito aproximado parece encontrar-se no modo de a teoria
quântica explicar a ordem da natureza: «A ordem complexa que evolui na biosfera
não é proveniente do caos nem do nada, como proclamam os darwinistas, mas da
efectivação dos padrões de estados
quânticos determinados com precisão. Enquanto os saltos de um estado quântico
para outro são regulados pelo acaso,
a ordem dos estados sobre os quais o
salto recai não o é.» (LS, ob. cit, p.116)
Ora este jogo entre o acaso e as estruturas ordenadas está
também na base do cibertexto. Está no equilíbrio entre o programa e a aleatoriedade:
entre as estruturas virtuais encerradas no algoritmo
e a multiplicidade concreta de estados
textuais variacionais. Em princípio – generaliza Lothar Schäfer – todo o
universo “pode e deve ser considerado como um sistema quântico com estados
visíveis-reais e invisíveis-virtuais”. (ob. cit, p.117)
A tese básica de Schäfer é então a seguinte: «A ordem
visível do universo é a expressão fenotípica de uma ordem mais profunda: a da
realidade quântica». Na perspectiva quântica (contra os darwinistas ortodoxos)
“os genes são veículos por meio dos quais as mensagens de uma ordem
subjacente são reveladas”. (LS, p. 118) Tal é também a dinâmica do texto generativo – um jogo perpétuo
entre “constantes” e “variáveis”.
Uma outra noção de texto?
Sem dúvida. Por exemplo, em Teoria do Homem Sentado, tal como em O Motor Textual, os textos que o leitor poderia ver desfilar no
ecrã não existiam previamente fixados e portanto não transportavam qualquer
sentido a não ser aquele que, uma vez germinados, viessem efectivamente a
desprender. Só então eles poderiam ser fixados na sua concretude semântica:
seja gravados em suporte magnético ou impressos em papel através de uma
impressora. O texto virtual (na acepção que aqui lhe damos) é pois uma obra
computacional em potência que contém o programa genético dos textos a gerar;
por isso os textos concretos apenas existem nele em estado latente, em estado
de semente. E do mesmo modo que a semente não é ainda a planta criada, também o
programa textual não é ainda a(s) obra(s) que o leitor irá fruir. Nesta
perspectiva, o texto virtual é imaterial: o que existe no suporte físico do
computador não é um texto, não tem um sentido, não tem um significado - é
apenas o «motor» de uma pluralidade de realizações textuais ainda por
materializar signicamente. Somos então levados a uma noção de texto não
estática, mas dinâmica: a um texto concebido como “estrutura geradora” de
sentidos (texto generativo).
O texto generativo implica a ideia de texto potencial, mas
transcende-a. A literatura potencial, como «obra-a-construir», já existia desde
longa data antes da era do computador: a atestá-lo ficaram, ainda próximas de
nós, as numerosas experiências do «Ouvroir
de Littérature Potentielle». Mas o computador veio potenciar, actualizar e
reconfigurar a ideia de texto potencial. Veio sobretudo infinitizá-la: atirá-la
para lá da nossa capacidade de controlo. Estamos perante uma “abertura
estrutural”, que é imanente a qualquer obra potencial: mas um gerador textual é
um programa de computador que se configura como o «código genético» de uma
pluralidade infinita de textos por nascer. O texto generativo manifesta-se no
interior de um campo de possíveis. «Uma obra que existe em múltiplas formas,
sob estados diferentes, uma obra que está ao mesmo tempo em todo lado e em lado
nenhum» (Alain Vuillemin).
De instrumento de criação literária, o computador passa a
ter também um papel como instrumento de leitura: a interposição da máquina,
como manipulador de sinais e extensor de complexidade, traduz-se assim
necessariamente numa nova atitude do autor e do leitor face à obra
computacional. A função do computador é a de desenvolver até ao infinito a
ideia de um autor e de a apresentar em processo ao leitor como um «fantasma de
eternidade» (J. P. Balpe).
É óbvio que tudo isto implica uma modificação também no
conceito de leitura. Pergunta Philippe Bootz: «Então onde está o texto, quando
a sua forma não cessa de se metamorfosear?». O texto sintetizado em computador
tende sempre a implicar um corte mais ou menos radical na comunicação
inter-subjectiva entre o autor e o receptor.
8
– A implicação do observador na génese do texto – o “escrileitor”
«Tudo
aquilo em que nós toquemos por meio da observação transforma-se em matéria»
Lothar
Schäfer
A concluir, resta colocar em
paralelo a interferência do observador sobre o objecto observado, um dos
pressupostos da teoria quântica, com a famosa interactividade do leitor no hipertexto e demais formas
cibertextuais.
A importância atribuída ao observador na manifestação das
propriedades físicas da matéria (entenda-se, da realidade natural) é
singularmente análoga ao papel participativo do leitor nas diferentes
modalidades do cibertexto, podendo mesmo chegar a exigir um termo novo para
designar a figura cooperativa do “escrileitor” (wreader, laucteur).[24]
Quanto em 1996 apelidávamos a
«Teoria do Homem Sentado»[25]
como um “livro electrónico” (termo que hoje se tornou perigosamente equívoco
após o surgimento dos e-books), não era
por ser difundido em suporte digital, mas por envolver uma outra noção de texto
que não tinha nem podia ter cabimento no suporte fixo do livro em papel: o
"texto virtual" implicava aí uma dinâmica computacional, mas também o
incubamento e a multiplicidade infinita dos textos a gerar pelo programa; os
textos não existiam sequer no suporte magnético enquanto textos, e portanto não
detinham um sentido a priori; os
textos apenas existiam no computador em estado potencial, em estado latente, em
estado de projecto, em estado de programa; o texto virtual era aí uma estrutura
literária associada a um motor informático que a punha a funcionar. O
computador intervinha então como um «telescópio de complexidade» (Moles): a
leitura no ecrã desempenhava assim uma função primordial, pois qualquer fixação
em papel, através da impressora, seria sempre uma opção secundária e
necessariamente incompleta por parte do utilizador/leitor.
Com efeito, qualquer
«sintetizador de textos» implica a noção de gerador automático: um programa
criativo que interpõe a máquina na relação tradicional entre o autor e o
leitor.
![]()
Contudo, aquilo que do ponto de vista do autor pode surgir
como "texto múltiplo" (Moles), do ponto de vista do leitor pode
surgir como "texto de leitura única" (Bootz); e, no domínio do texto
computorizado, pode ser descrito, pela sua dinâmica, como "texto em
processo" (Bootz), “texto performativo” (Balpe) ou “texto ergódico”
(Mourão).
A introdução da interactividade
no momento da recepção do texto ergódico – mesmo no caso do “hipertexto”, a
mais famosa das estruturas digitais nos nossos dias - pode conduzir a uma
interversão simbiótica nas funções tradicionais do autor e do leitor mediante
uma maior ou menor participação deste último no resultado textual final. Rui Torres, em Digital Poetry and Collaborative Wreadings of Literary Texts recontextualiza
a questão nestes termos: «It is actually up to the reader to accept, or not,
the scheme provided by the author. Hypertext and hypermedia do really unlock new possibilities for random
access to information, but the reader can browse and interpret a linear
narrative in a non-linear manner, and a non-linear poem can be read in a linear
form. Bearing this in mind, I prefer to analyse the features of new media that
stimulate non-linear approaches, shattering our preconceived notions of author
(through collaboration), text (through convergence), and reader (through
interactivity). […] Like
experimental poetry, digital poetry presents its intransitive symbols through
self-reference, and its main features are those of experimental literature:
processuality (incompleteness, open-work); interactivity (wreading,
re-writing); hypermediality (integration, convergence); and networking
(interaction, collaboration).» [26]
Mas aqui será legítimo estabelecer gradações no conceito,
podendo falar-se de uma interactividade fraca (que começa talvez na simples
interpretação) até uma interactividade forte (que culmina nas práticas mais
intrusivas da escrita cooperativa).
O circuito comunicacional da literatura encontra-se em todo
o caso alterado, tanto do lado da criação como do lado da recepção: o acto de
leitura, ao tornar-se interactivo, envolve a participação do leitor na
navegação ou mesmo na co-criação do texto final, mediante um processo
simultâneo de escrita-leitura. E a leitura-pela-escrita ou a
escrita-pela-leitura, erige o leitor tradicional em funções de recepção novas,
requerendo por vezes para ele o papel de um verdadeiro “escrileitor” (ou
“espectactor”, no caso mais recente da hipermédia). [27]
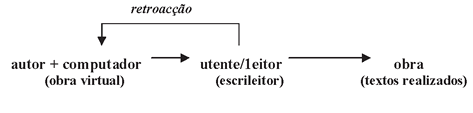
O cibertexto envolve uma nova relação com as palavras, as quais surgem inseridas, desde o seu nascimento até à sua morte, num contexto outro de comunicação literária. O circuito literário tradicional surge aqui alterado nos seus múltiplos componentes: na relação autor/texto, na relação texto/leitor, na relação autor/leitor, e na própria noção de Texto. Entramos no domínio do Texto concebido como pura «máquina verbal»: ou do texto como estrutura geradora de sentidos.
Enfim: escrileitor
ou espectactor, estas novas figuras surgidas
no cibertexto, do lado da recepção, tornam funcionalmente relevante o papel do
utilizador na exploração do sentido, alterando o resultado final emergente.
Um paralelismo poderia aqui também ser reclamado para a
atitude determinante que o observador tem na manifestação das propriedades
quânticas da matéria, face à passividade do observador na concepção da física
clássica. A dualidade onda-partícula é algo que só no acto de observação se
decide, tal como da observação dependem ainda as propriedades mensuráveis numa
dada partícula (localização ou velocidade, como é já do senso comum). Isto leva
Schäfer a afirmar, paradoxalmente, que a realidade é criada pela observação –
assim erigindo também o “observador” em decisor último das propriedades observáveis
na interpretação
do real. Tal como o sentido, que só o “escrileitor” decide e constrói no
domínio da cibertextualidade.
NOTAS FINAIS
NOTA FINAL 1:
Recorde-se a dualidade das partículas quânticas, e evoque-se aqui
sucintamente o famoso exemplo hipotético do gato de Schrödinger o qual, sendo
embora (e apenas) uma experiência de pensamento, se encontraria num estado
virtual de vivo e morto ao mesmo tempo. Penrose: «O gato pode ser pensado como
o resultado final de um registo; passamos do nível quântico para um mundo de
objectos ponderáveis quando encontramos o gato vivo ou morto. O problema é
este: se tomamos o nível quântico como correcto, encontramos o gato
simultaneamente morto e vivo. A ideia consiste em que o fotão se encontra numa
sobreposição de estados num sentido e no outro, o detector numa sobreposição de
estados ligado e desligado e o gato numa sobreposição de estados vivo e morto.»
(o.c., p.81)
Este problema
tem sido debatido há muito tempo, sob diferentes pontos de vista. O ponto de
vista dos “mundos paralelos” é um deles: de acordo com ele o gato estaria de
facto morto e vivo ao mesmo tempo, mas, num certo sentido, os dois gatos
viveriam em universos diferentes. Esta hipótese, porém, conduz a uma concepção
da realidade demasiado complexa. Interroga Penrose: «Como é que do ponto de
vista de muitos mundos se trata isto?
Alguém chega aqui, olha para o gato e pergunta: “Porque é que não se observam
estas sobreposições de estados no gato?” Há um estado de um gato vivo,
juntamente com uma pessoa que vê e tem a percepção de um gato vivo, e há outro
estado de um gato morto, acompanhado por uma pessoa que observa o gato morto.»
(o.c., p. 83) Penrose, convidando a um reexame da questão sob vários pontos de
vista, formaliza do seguinte modo esta situação paradoxal (pois tanto podem
colocar-se gatos ou símbolos dentro dos parênteses rectos da equação de Dirac):

Estas duas alternativas
encontram-se sobrepostas em estado potencial, tal como acontece, ao nível
quântico, com o desdobramento de uma partícula em dois estados alternativos.
Considerando uma partícula de spin ½,
como por exemplo um electrão, um protão ou um neutrão, sucede que essas
partículas podem ter dois estados de spin, um com o vector de rotação a apontar
para cima e outro com o vector de rotação a apontar para baixo. A sobreposição
dos dois estados é representada simbolicamente nesta equação (cf. o.c., p. 72):
![]()
Em nada são
para aqui chamadas questões de formalização matemática, a não ser a mero título
de curiosidade. O que, isso sim, nos interessa são os pressupostos lógicos
paradoxais em que parecem assentar estas experimentações quando aplicadas a
partículas materiais que nos habituamos a ver como unidades coesas. Contudo,
ainda que paradoxais nos seus efeitos, serão também paradoxais na sua fonte? A
dicotomia potencialVSactual, já
discutida, parece dissolver situações paradoxais como esta. Por outro lado, a
tradição do pensamento dialéctico (oriental e ocidental), coloca-nos num quadro
filosófico supostamente mais receptivo. A nosso ver, o desdobramento de um fotão
em dois estados simultâneos opostos e complementares, lembra-nos de imediato a
tríade dialéctica clássica: uma síntese,
como resultado de uma tese e de uma antítese. E toda a dinâmica do
universo, nos seus diferentes níveis, não obedecerá a este permanente jogo
dicotómico entre o positivo e o negativo? O sim e o não, o + e o –, a noite e o
dia, o calor e o frio, o masculino e o feminino, o yin e o yang, a vida e a
morte, o bonito e o feio, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e por aí
adiante? Não será dessa interacção que emerge a própria dinâmica evolutiva do
cosmos? À luz da racionalidade, porém, todos estes pares de antíteses são
sempre unificáveis em sínteses mais amplas correspondentes a entidades ou
conceitos com nomes como “energia”, “temperatura”, “vida”, “sexo”, “justiça”,
“beleza”, “verdade”, etc. E na análise que fazemos, o gato de Schrödinger, tal
como as entidades quânticas, encerra em si mesmo (mas em estado potencial) dois
estados dicotómicos disponíveis ao observador no plano actual – o gato vivo e o
gato morto – tal como o conceito de energia encerra o positivo e o negativo, o
conceito de sexo engloba o masculino e o feminino, ou o de justiça o bem e o
mal. Digamos, em termos de senso comum, que o próprio conceito de ser vivo
inclui dois estados complementares – o estar vivo e o estar morto (a vida
implica nascimento e morte). Dentro de um paradigma
indeterminista dir-se-ia que é o observador, ao tornar real um dos estados
potenciais, que dá vida ou morte ao gato!
Prescindindo
assim de questões técnicas, o que daqui apenas pretendemos retirar são as bases
de um pensamento científico que surge estranho a uma abordagem unívoca ou
unidimensional da realidade mas que se torna bem mais compreensível a uma
abordagem dialéctica. E para quem lida com o campo textual, familiarizado que
está com a esfera do pensamento simbólico e da cognição artística, tudo parece
conjugar-se num mesmo paradigma. Por exemplo, quando a luz branca se divide num
conjunto de feixes luminosos coloridos ao atravessar um prisma transparente, e
quando esse arco-íris se recompõe de novo num feixe de luz branca, não vemos
aqui algo de muito diferente dos fenómenos não unitários que se nos deparam na
interpretação de um texto literário quando ele se refracta numa pluralidade de
sentidos (segundo o princípio da pluri-isotopia), emanando embora de uma
unidade estrutural única ao nível do significado – a sua fonte. Em ambos os
casos vemos o uno fragmentar-se no múltiplo e de novo reduzir-se ao uno. Ou
seja, quando uma partícula quântica como a descrita acima se divide em duas
partículas de spin contrário, é como
se a lógica que preside à consideração deste fenómeno deixasse de ser uma
lógica da identidade ou da não-contradição para se tornar numa lógica analógica
assente no princípio do “terceiro incluído” (em que A=A+B+C…). O fenómeno da
pluralidade dos sentidos emergentes do texto literário entra nesta classe de
lógicas modais (digamos assim) – em que a realidade é defrontada de modo
pluridimensional, desde o seu nível mais básico até ao nível mais complexo da
sua organização.
___________________
NOTA FINAL 2:
E voltamos aqui à teoria dos três mundos: MATÉRIA, VIDA, ESPÍRITO
(átomos, células, mente).
Ou: mundo inorgânico, biológico e psíquico.
Em suma: os três domínios epistemológicos clássicos: física, biologia e
psicologia (matéria, cérebro e informação).
Mundo 1 (mundo material, constituído por átomos e energia, inserido no
espaço-tempo) – matéria (física, química, astronomia) e célula (biologia,
neurologia, cérebro): equivalente ao nível do SIGNIFICANTE.
Mundo 2 (mundo mental e cultural) – fenómenos psíquicos e campo da
informação, fenómenos mentais, não espaciais e não materiais: equivalente ao
nível do SIGNIFICADO.
Mundo 3 (nível da consciência e do eu) – espiritualidade, alma,
consciência (filosofia, metafísica): equivalente ao nível do SENTIDO.

Os mundos aqui considerados não equivalem exactamente ao modelo dos três
mundos de Popper: mas correspondem-se com os três vértices do triângulo
semiótico (significante, significado, sentido). Estes três mundos são estanques
embora hierarquicamente interdependentes: o terceiro depende do segundo e o
segundo assenta sobre o primeiro. Mas são estanques entre si: a vida parece
emergir da própria vida (nunca da matéria se gerou vida em laboratório), só a
vida gera vida pela reprodução; o mundo 2 intercambia informação, é nele que os
dicionários codificam os significados, e é por essa informação que as mentes
comunicam e fazem a cultura; o mundo 3 é estritamente individual, não
partilhável, é o foro íntimo do eu e da consciência (individual/transpessoal).
Ou seja, há 3 níveis estanques mas interdependentes hierarquicamente
(mesmo considerando, por complexificação contínua da matéria, saltos
estruturais segundo a lei marxista da transformação da quantidade em
qualidade):
Nível matérico (mecanicismo) – significante
Nível vital (vitalismo) – significado (os animais reagem, têm dor,
pensam, etc., manifestam fenómenos mentais em graus de complexidade diferentes)
Nível mental (animismo) – a experiência íntima e não partilhável do “eu”
e da consciência (sentido, semântica)
Reformulação
do ensaio originalmente publicado na revista «Cibertextualidades 01», CETIC,
Centro de Estudos em Texto Informático e Ciberliteratura, UFP, Porto, 2006.
<REVISTA TEXTO
DIGITAL>
